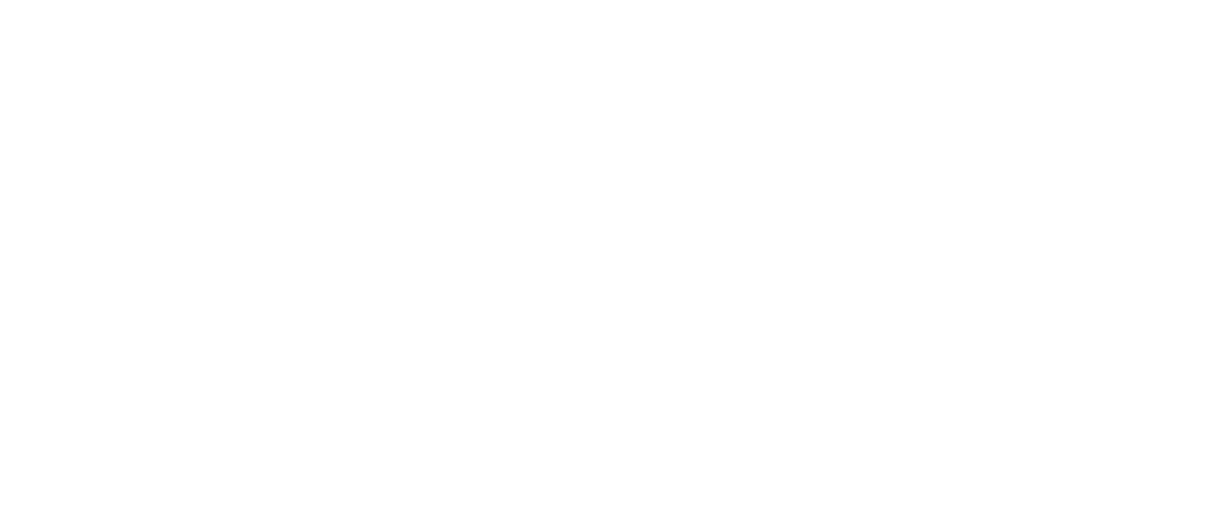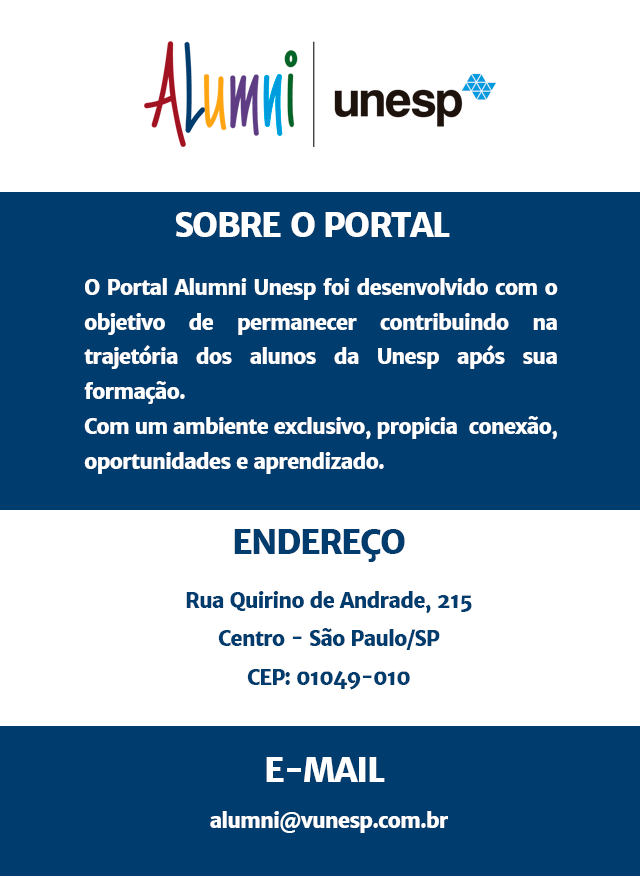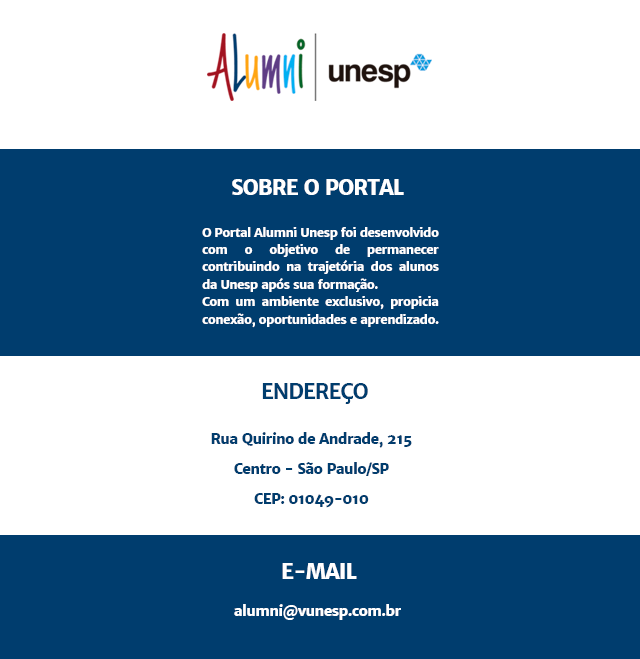Cleber Santos Vieira é egresso do curso de História da Unesp, câmpus de Franca. Atualmente, ele é Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) e docente da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Além disso, o professor também é militante da causa negra no Brasil e busca uma sociedade mais igualitária dentro e fora da Universidade.
A ABPN foi criada no ano 2000, é uma associação nacional que une docentes, estudantes, professores da educação básica e ativistas, engajados em movimentos sociais e na produção científica negra.
Entre os objetivos da associação estão a luta por equidade racial, a construção e viabilização de uma educação antirracista. Assim como o combate ao racismo estrutural. que afeta as instituições de ensino e consequentemente a pesquisa, a extensão e a gestão universitária, como afirma Cleber.
Segundo o pesquisador, uma das principais realizações da ABPN é o Congresso de Pesquisadores Negros (as) - COPENEs, que é um encontro que une pesquisadores negros de todo o Brasil. Entre outras realizações, também, está o Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros - CONNEABs, que agrupa núcleos distribuídos em quase duzentas instituições de ensino, cuja organização é uma das tarefas do egresso.
Cleber ressalta, que um episódio importante para a criação da associação ocorreu dentro da Unesp, em Marília, no final da década de 80. “A Unesp sediou o I Encontro de Docentes e Pesquisadores e Pós-Graduandos Negros das Universidades Paulistas, com o tema “A Produção do Saber e suas Especificidades. Esse evento foi fundamental para a articulação de organizações negras acadêmicas, inclusive da ABPN”.
O diretor, que cresceu no Distrito Federal, conversou com a equipe do Alumni sobre sua trajetória, desde de sua adolescência, quando Cleber era membro do Movimento Anarco-Punk, onde havia um grupo de estudos sobre formas de opressão do estado, raciais e de gênero. Sua história mostra como a cultura musical podem influenciar a vida e as reflexões de uma pessoa, uma vez que ele conta ter escolhido História enquanto ouvia suas músicas favoritas na juventude.
Durante a conversa, entre assuntos sobre música, engajamento em movimentos estudantis e uma curiosidade enorme pelo conhecimento, Cleber também nos alerta para as graves consequências do racismo estrutural. Confira abaixo, a entrevista na íntegra.
Você pode nos contar sobre sua trajetória? Como surgiu seu interesse em História e como escolheu a Unesp?
Eu nasci em uma cidade chamada Gama (DF), que fica há cerca de 40 km de Brasília. Meus pais são do nordeste, foram para a Capital da República na época de sua construção: minha mãe de Sergipe, meu pai do Estado do Piauí. Sou o sexto filho de sete irmãos de uma família nordestina negra formada no planalto central. Estudei em escola pública, sendo que o segundo grau (ensino médio atual) foi em curso técnico. Fui o primeiro dos filhos a ingressar em uma universidade.
Meu interesse por História remonta a época de minha adolescência, principalmente quando me envolvi com movimentos sociais de Brasília, principalmente o MAP – Movimento Anarco-Punk. Por mais incrível que possa parecer aos desavisados, no MAP havia (e há) uma disciplina de estudos, discussões e ações, sobretudo, contra a opressão do Estado, mas que já àquela época se entrecruzava com todas as formas de opressão, racismo, sexismo etc. Foram nos discos de bandas Punk e de Rap que despertei meu interesse por história. Com o tempo compreendi que o sistema escravista é o episódio mais importante da história do Brasil e combater o racismo significa também reescrever a história.
Escolhi a Unesp pelo desejo e pela necessidade de estudar em universidade pública. Em um mundo ainda sem uso ostensivo da internet (estamos em 1993), o fato de a Unesp manter um escritório em Brasília fez toda diferença. A estratégia de divulgação de seu vestibular pelas escolas de ensino médio e cursinhos pré-vestibulares de Brasília surtiu efeito e de alguma maneira chegou a mim, um jovem adolescente negro morador da periferia de Brasília.
Em 1993, o tema da redação no vestibular da Unesp foi “O Brasil de ontem, hoje e as eleições de amanhã”. Tive sorte. A Epígrafe foi inspirada no livro “Os Bruzundangas” de Lima Barreto, meu literato predileto desde aquela época. Outra recordação forte e histórica do vestibular daquele ano: estudantes da UNE e das Brigadas de Solidariedade a Cuba recolhiam as canetas, lápis e borrachas utilizadas pelos vestibulandos para enviar a estudantes cubanos. Era o contexto de colapso da URSS, da queda do Muro de Berlim e dos impactos dos embargos econômicos contra a ilha revolucionária.
Na sua visão, o que deve ser transformado na Universidade para que ela se torne um ambiente mais igualitário na perspectiva étnica-racial?
Primeiramente, as instituições e as pessoas precisam reconhecer que a sociedade brasileira é racista; que o racismo estrutura as relações e as instituições, inclusive as universidades. É preciso superar o racismo estrutural. Para que as universidades se transformem em espaços de produção científica com equidade racial, é necessário que elas radicalizem a adoção de políticas de ações afirmativas, isso é, assumam as ações afirmativas como compromisso estratégico para o desenvolvimento institucional em todos os setores, em todas atividades fins e atividades meios. Essa é a condição para que o racismo institucional seja energicamente combatido no ensino, pesquisa, extensão e gestão.
As cotas raciais no acesso ao ensino superior, no âmbito federal materializadas pela Lei 12.711/03, incendiaram o debate sobre as desigualdades raciais no sistema de ensino superior e, desde então, apresentam-se como uma correta e necessária política pública voltada para a democratização na educação brasileira. Mas é preciso avançar: reitores e reitoras precisam apoiar e fortalecer as Comissões de Identificação Étnicas-Raciais, que são um importante mecanismo de combate às fraudes que, infelizmente, ainda ocorrem na política pública de inclusão e reparação. A fraudes ocorrem sobretudo nos chamados cursos “elitizados” (Medicina, Engenharias, etc). Universalizar as cotas nos programas de pós-graduação é outra forma de assegurar maior diversidade ético-racial nas instituições de ensino superior, assim como transversalizar e/ou criar disciplinas obrigatórias em todos os cursos de graduação imbuídas pelo artigo 26-A da Lei de diretrizes e bases da educação nacional (alterado pelas leis 10.639/03 e 11.645). Será a forma das instituições impactarem positivamente na formação de estudantes, a partir da educação para as relações étnico-raciais. E ainda, apoiar os NEABs (Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros), NEABIs (Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas) e dos grupos correlatos.
Como a Unesp colaborou para sua formação profissional e pessoal?
A UNESP foi decisiva em minha trajetória e formação. Foi ali que aprendi o sentido mais amplo da expressão “Universidade Pública, Gratuita, Laica e de Qualidade”. Fui beneficiário de todas as formas de assistência estudantil que existiam na Unesp, principalmente a bolsa PAE – Programa de Assistência ao Estudante e moradia estudantil. Naqueles idos entre 1994 e 1997, esses apoios foram fundamentais para a minha permanência na graduação. Para mim, ações afirmativas e assistência estudantil são temas da vida, da luta e hoje inserem-se também na produção de conhecimento junto aos parceiros e parceiras da ABPN e do CONNEABs. Estudei no campus de Franca e participei ativamente do movimento estudantil, desde a pauta de sobrevivência (em 1994 moramos na ocupação que ficava no terceiro andar do prédio da Faculdade de História, Direito e Serviço Social - FHDSS) até as lutas mais amplas em defesa da autonomia orçamentária. A solidariedade e convivência coletiva nas lutas, na ocupação e depois no Quarto 23 da Moradia Estudantil da UNESP Franca, me ensinou muito sobre vida coletiva e responsabilidade no trato com a coisa pública. Essa trajetória fez de mim um professor radicalmente comprometido com a educação pública.
Cheguei na Unesp em 1994. Com uma mochila nas costas e dois tostões no bolso, fui afetuosamente acolhido na Pensão de Dona Cida, liderança maior de uma família negra. Depois, com outros companheiros fui morar na ocupação. “Ocupar, Estudar, Resistir” era o nosso lema. Em 1995, já era um aluno do segundo ano de graduação em história da Unesp-Franca com ao menos a estabilidade de ter onde morar ocupando uma das 56 vagas da moradia estudantil destinada a estudantes da Unesp-Franca.
1995 foi também um ano importante de mobilização nacional do movimento negro brasileiro. Foi o ano de realização da “Marcha contra o Racismo. Pela Igualdade e Pela Vida”. As atividades que se espalharam pelo Brasil em torno dos 300 anos de ZUMBI do PALMARES, também foram realizadas em Franca, terras de Abdias Nascimento, do poeta Carlos Assumpção e Dona Cida. Na Unesp, um reduzido número de estudantes negros e negras e outros ativistas presentes no centro de estudos de História e no Diretório Acadêmico organizaram o primeiro seminário da consciência negra na FHDSS – UNESP - Câmpus Franca. Tenho muito orgulho de ter participado desse processo.